Por que a Política Nacional de Inovação ainda falha — e o que Acemoglu, Mokyr e Hayek nos ensinariam sobre isso
A Política Nacional de Inovação brasileira busca aproximar universidades, empresas e Estado — mas acabou criando um ecossistema dependente e centralizado. Entenda por que o modelo atual falha e o que pensadores como Acemoglu, Mokyr e Hayek apontam como solução para um ambiente de inovação verdadeiramente livre e competitivo.
ESTRATÉGIAPROPRIEDADE INTELECTUAL
Gabriel DC
11/8/2025
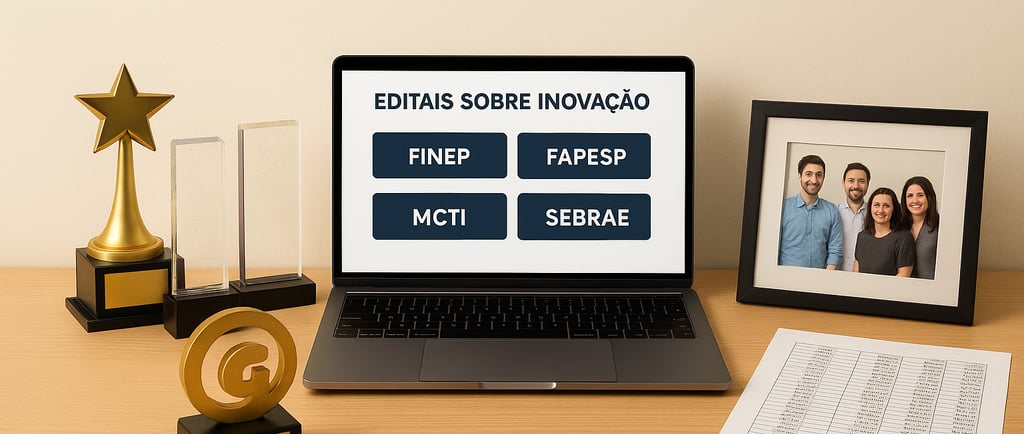

1. A promessa não cumprida da inovação no Brasil
O Brasil fala muito em inovação — e faz pouco por ela. Desde a criação da Política Nacional de Inovação, sustentada por marcos como as Leis nº 10.973 e 13.243, o país tenta articular universidades, empresas e Estado em um mesmo ecossistema. No papel, é uma engrenagem sofisticada: o Estado cria as condições, as universidades produzem conhecimento, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) fazem a ponte com o mercado, e as empresas transformam ideias em produtos e serviços.
Mas essa engrenagem emperrou.
O discurso da inovação se institucionalizou, virou norma, virou meta, virou orçamento — mas raramente virou resultado. Em vez de liberar o potencial criativo da sociedade, a política se transformou em um sistema que administra a inovação de cima para baixo, e não de baixo para cima.
2. Um ecossistema dependente do Estado
O que deveria ser um ecossistema — um ambiente vivo, competitivo e dinâmico — virou uma rede de dependências. As universidades dependem do fomento público; os NITs, do orçamento das reitorias; os parques tecnológicos, de convênios com o governo; as incubadoras, de editais e subsídios. O Estado se tornou a fonte primária e quase exclusiva de oxigênio, sufocando a autonomia e a meritocracia.
A ideia de ecossistema pressupõe diversidade e competição — diferentes agentes interagindo, inovando e aprendendo uns com os outros. Mas o que se vê é um sistema verticalizado, onde a inovação é regulada, medida e financiada conforme as prioridades burocráticas do momento.
No lugar da liberdade empreendedora, temos editais.
No lugar da competição, temos comissões.
E no lugar de ideias novas, temos relatórios de execução.
3. O papel (e o desvio) das universidades, NITs, parques e incubadoras
As universidades são o coração da produção científica brasileira. Produzem pesquisa de qualidade, formam cérebros brilhantes, mas seguem distantes do mercado. Parte disso é estrutural: as métricas acadêmicas ainda valorizam artigos publicados, não produtos lançados. O pesquisador é premiado por citar e ser citado, não por transferir tecnologia.
Os NITs, criados para mudar essa realidade, acabaram presos na burocracia. Muitos se tornaram departamentos cartoriais de propriedade intelectual, mais preocupados com o número de patentes do que com a sua comercialização. A ponte entre ciência e empresa foi construída, mas sem fluxo.
Os parques tecnológicos, idealizados como territórios férteis de inovação, com o tempo se transformaram em projetos imobiliários de alta tecnologia — mais espaços físicos do que comunidades de criação. O capital humano e intelectual que deveria circular nesses ambientes acaba disperso ou aprisionado em estruturas administrativas pesadas.
As incubadoras, por sua vez, nasceram para ser laboratórios da destruição criadora schumpeteriana. Mas, em vez de estimular a competição e o risco, tornaram-se abrigos temporários para startups que não sobrevivem sem subsídios. Muitas incubadoras públicas abrigam negócios frágeis, sem modelo de receita validado, esperando o próximo edital — e não o próximo cliente.
O resultado é um paradoxo: quanto mais o Estado financia, menos o ecossistema se sustenta.
4. Como o excesso de tutela sufoca a inovação
O problema central da política de inovação brasileira é a confusão entre fomento e controle. Em vez de criar o terreno fértil para a inovação florescer, o Estado tenta decidir o que deve ser plantado, como, quando e por quem.
Esse comportamento paternalista cria o que economistas chamam de instituições extrativistas: estruturas que concentram poder, distribuem recursos conforme critérios políticos e reduzem a concorrência. O estímulo não está na eficiência, mas na capacidade de captar verbas.
Empresas e universidades passam a inovar para o edital, e não para o mercado. A criatividade é direcionada à escrita de projetos, não à resolução de problemas reais. Com o tempo, a cultura de inovação se transforma em cultura de dependência.
A consequência é devastadora: perdemos o dinamismo que impulsiona o desenvolvimento.
Como lembra Daron Acemoglu, países prosperam quando criam instituições inclusivas, que abrem espaço para a participação ampla e recompensam o mérito, e não a conexão política. Quando o Estado centraliza a inovação, ele limita justamente o que deveria expandir — o espaço para a experimentação e para o fracasso produtivo.
5. O Estado como coordenador — não protagonista
Não se trata de eliminar o Estado, mas de reposicioná-lo.
O papel do governo em um ecossistema de inovação não é o de protagonista, e sim de coordenador de incentivos e garantidor de regras justas.
O Estado deve investir em infraestrutura científica e tecnológica básica — laboratórios, redes de dados, energia, conectividade — e em educação de base e técnica, mas sem se tornar o dono da pauta da inovação.
Deve criar ambientes regulatórios estáveis, segurança jurídica para a propriedade intelectual, e incentivos fiscais horizontais que estimulem a concorrência, não a dependência.
A inovação real nasce quando o Estado abre caminho para a liberdade criativa do mercado, e não quando tenta substituí-la.
6. A visão de Mokyr: inovação nasce da liberdade
Joel Mokyr, historiador econômico e autor de A Culture of Growth, mostra que o desenvolvimento técnico europeu não foi fruto de uma política estatal iluminada, mas de uma cultura de crescimento, na qual ideias circulavam livremente, experimentos eram valorizados e o fracasso era visto como aprendizado.
O que impulsionou a Revolução Industrial não foi um decreto, mas a liberdade de inovar. Mokyr chama isso de “mercado de ideias”: um ambiente em que cientistas, inventores e empresários competem e cooperam simultaneamente, sem medo de punição ou censura.
O Brasil precisa aprender com essa lição.
A inovação não floresce sob tutela constante. É preciso menos Estado condutor e mais Estado garantidor — aquele que protege o direito de inovar, não o que decide quem pode fazê-lo.
7. Acemoglu e o perigo das instituições extrativistas
Acemoglu e Robinson, em Por que as nações fracassam, mostram que a diferença entre riqueza e pobreza está no tipo de instituições que um país constrói.
As instituições inclusivas criam oportunidades amplas, recompensam a criatividade e permitem que o talento floresça;
as instituições extrativistas, ao contrário, concentram recursos e restringem a inovação a quem tem acesso privilegiado ao poder.
O sistema brasileiro de inovação, infelizmente, carrega traços extrativistas.
Recursos públicos concentrados em poucas universidades, editais voltados a grandes empresas, barreiras burocráticas que afastam pequenos empreendedores.
O ambiente de inovação, em vez de nivelar o jogo, o desequilibra.
Para mudar isso, é preciso reorientar os incentivos.
O Estado deve financiar a base, não o topo; deve premiar a eficiência, não a formalidade; deve criar competição, não conforto.
8. Hayek e a ordem espontânea da inovação
Friedrich Hayek, em O Caminho da Servidão, alertava que o conhecimento está disperso na sociedade e que nenhuma autoridade central pode coordená-lo de forma eficiente.
Na inovação, isso é especialmente verdadeiro: ninguém sabe de onde virá a próxima grande ideia.
A função do Estado, portanto, não é dirigir a inovação, mas remover as barreiras para que ela ocorra.
Hayek chamaria isso de ordem espontânea: quando indivíduos agem livremente, trocam informações, experimentam e erram — e, nesse processo caótico, o progresso emerge.
Em outras palavras, o caos produtivo da inovação é mais eficiente que a ordem burocrática do planejamento.
Quando o governo tenta prever o futuro da tecnologia, ele inevitavelmente se apega ao passado. E isso é fatal em um mundo que muda na velocidade da informação.
9. Um novo pacto para o ecossistema brasileiro
Se quisermos um ecossistema de inovação maduro, precisamos de um novo pacto — baseado não na dependência, mas na autonomia.
As universidades devem manter o foco na pesquisa básica e na formação de talentos, mas abrir suas portas para o mercado, promovendo currículos mais interdisciplinares, acordos de cooperação e resultados mensuráveis em impacto econômico e social.
Os NITs precisam abandonar a mentalidade cartorial e agir como agentes de mercado, aproximando pesquisadores e investidores, negociando licenças e parcerias com rapidez e transparência.
Os parques tecnológicos devem evoluir de empreendimentos imobiliários para ecossistemas vivos, com densidade de startups, aceleradoras e capital de risco.
E as incubadoras precisam se libertar do fomento público e buscar sustentabilidade própria, conectando-se com fundos privados, investidores-anjo e redes de inovação globais.
O Estado, por sua vez, deve se concentrar em políticas horizontais — marcos legais, proteção de propriedade intelectual, estímulo ao investimento privado e promoção de infraestrutura — em vez de tentar “escolher campeões” ou decidir quais tecnologias devem prosperar.
10. Da dependência à autonomia: a virada que o Brasil precisa
A Política Nacional de Inovação nasceu com boas intenções, mas foi capturada por sua própria estrutura.
Criou instituições, mas não cultura.
Construiu prédios, mas não conexões.
Financiou projetos, mas não resultados.
O desafio agora é mudar o paradigma: sair de um modelo tutelado para um modelo autônomo, competitivo e inclusivo.
Como diria Mokyr, o desenvolvimento não se impõe — ele se cultiva.
Como lembraria Acemoglu, prosperam as nações que criam instituições inclusivas.
E como ensinou Hayek, a ordem verdadeira nasce da liberdade, não do controle.
A inovação brasileira não precisa de mais planos.
Precisa de mais liberdade para errar, competir e vencer.
